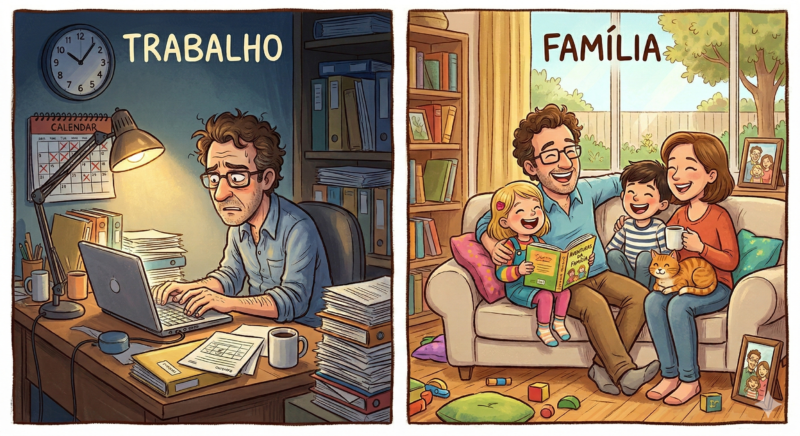A peça Asa Serpente, da Companhia de Teatro da Universidade Federal do Paraná, esteve em cartaz no Teatro da Reitoria do dia 17 ao dia 19 de Novembro. É fruto de um longo processo de pesquisa, onde através de sete meses, o corpo de elenco, o diretor e dramaturgo, e a equipe criativa mergulharam nas investigações e derivações que semana passada assistimos.
• Clique aqui agora e receba todas as principais notícias do Diário de Curitiba no seu WhatsApp!
Ao que indica o senso comum, não é porque está ligada a uma tradicional instituição – diga-se de passagem uma das mais antigas universidades brasileiras – que se valha de recursos dramatúrgicos démodés. Ao assistir, é dispensável esperar copiosas formalidades: trata-se de uma experiência de teatro contemporâneo, vivo.
Entramos no teatro, escolhemos nossos lugares. O elenco está no palco dançando em roda. Um aquecimento de corpos transpirantes inicia o espetáculo: música eletrônica, ares de ensaio, na comunhão de gestos síncronos. Gritos, lisergia, tecno, strobo piscando fragmenta o movimento. Aos poucos a luz do teatro, aquela que ilumina a plateia para que possa se sentar, se apaga. A peça começou antes mesmo que o público entrasse.
Gradativamente esse elenco se revela a partir de premissas “identitárias, relacionais e históricas”. Eles têm seus lugares, solos ou duos, focos de luz, lugar de atenção, abertura, desenvolvimento. Os monólogos ou diálogos de cada um percorrem dores e deleites, apresentam perspectivas, subjetividades pé no chão, rasteiras na terra, ou delirantes aladas nas nuvens, devolvendo para si as próprias falas, sendo “a terra devolvendo a fúria da terra”. Certos momentos fazem coro conjunto, entoando canções em uníssono, na força de um bando.
Além disso, o que primeiro se apresenta é o corpo dos participantes. O teatro é feito de gente. Nesse encontro cênico, como as aves que voam em bando para diminuir o atrito da correnteza de ar, os atores navegam no palco, pendem para um lado, pendem para o outro, no barco que atravessa os mares espectatoriais mediante o apito da embarcação-devaneio. Mesmo na imagética de um agrupamento, também ocupam planos distintos: por vezes estão em pé, enquanto outros estão deitados, agachados, frequentemente postos em estado outro de corporeidade: estado de alerta, de brincar, de testar, de colocar à prova dos nervos, dos sonhos, da permanência.
Esse repertório de gestos é expressado variadamente. Determinados momentos apoiam-se uns nos outros para habitar o repouso, outros para tomar impulso à um próximo movimento. Cambaleares pendendo, andanças circulares no retangular palco italiano, pulares de botes, saltando para o próximo ato. Corpos deitados na lona, deitados em si. Braços e pernas que se lançam pelo ar, cabeças que giram, rotas que se alteram, marcações que se cruzam, desvios que se encontram. Assim como as histórias, as cenas continuam se amarrando umas nas outras, muitas vezes na sutil mixagem entre distintas partes.
Registro de cena do espetáculo. Fotografia: Solomon R. Plaza.
A cenografia também é transitória, em lonas que se movem, que são suporte, território, morada, recolhimento, armamento, brincadeira. Operam como prótese-extensão de uma mão, raízes volumosas para os pés, tetos para um passar apressado. Em grandes quadrados azuis escuros e laranjas vibrantes, são manipulados sobrepostos em multifacetas, como a própria vida.
A perspicácia do desenho de som já se entrega no início, ao apresentar a voz dos atores no off, enunciando frases enquanto se deslocam: posam efêmeros, fixam e se transferem. Em embalo eletrônico contemporâneo, carregam a brasilidade melódica intrínseca, seja na percussão onipresente feitas pelos pisares e palmas, pelos “oncotôs”, ou os tambores das caixas.
A iluminação impressa em tons alaranjados e azulados confunde-se com as lonas multifuncionais e os figurinos feitos de amarrações e recortes. Apontam-se pontos, questões de alvo, às vezes meio transversais, atravessadas por visages entremeadas, na focagem da mise en scene, aqui está o spot: siga-te, siga o farol norteador da consciência, feixe de luz do empírico prisma.
Ponto alto para as bicicletas no palco, sejam sendo pedaladas, ou dispostas como objetos cênicos. É surpreendente como elementos presentes no cotidiano, quando deslocados de seus originais intentos, podem levar a um estágio de possibilidade catártica.
É interessante notar que muitos recursos cênicos são complementados pelo próprio corpo de atores, nas lanternas que apontam para si, para o alto, para a plateia. Essas luzes emitidas de pequeninos mas potentes faróis, esboçam tramas, costuram camas de gato, complicadas novelinhas, borrando os limites do tangível. Interseccionado por efeitos de som e luz analógicos, no baile de lampejos que riscam o breu, nos chacoalhares do chocalho-cobra, as sinuosas serpentes rastejam no chão do palco, inventam palavras, mas também as colecionam, anotando, em um bonitinho caderninho de capa decorada, os dizeres que acabaram de conhecer: para assim designar as travessias e impermanências, identificar discursos e pessoas que nos cruzam.


Registro de cena do espetáculo. Fotografia: Solomon R. Plaza
Nessa enérgica coreopolítica capaz de “acordar toda a cidade”, a eufórica cinesia toma todos os corpos, os deles, os nossos. Contagia presença, faz o pé sentado na poltrona bater no chão. Todavia há tempo para a pausa, contemplação, reflexão: as migrações são intencionais ou circunstanciais?
A questão centra-se no meio da via: o rumo se dá pela interrupção do que foi ou a continuação do por vir? Caminha pelo trabalho a sensação de descontração. Tudo não passa de um viver e aprender a jogar, que apesar das regras socialmente impostas, faz-se extasiante, lúdico, e por isso compromissado. Gira pela alternação, pendula na continuação das coisas que acontecem simultaneamente: coexistem cursos, devires.
Principalmente nos momentos de quebra, da explicitude de um rascunho dramatúrgico em interrupções ou ruídos propositais, como a grande bola de arremesso que fazem com a lona, essas fronteiras são dissipadas: borram os limites entre o eu e o outro, sendo toda aquela força conjunta – não romantizada – explicitude da alteridade que invade as pessoas: não somos iguais, não temos nomes iguais, e mesmo que tivéssemos: não somos a mesma coisa. A pessoalidade de cada particular experiência parece redundância, mas não a é quando vivida em cena: na proposital assincronicidade, no admitir do repentino, entrega até certa agressividade ao tentar traduzir sensações tão cotidianas quanto abstratas.
Asa Serpente é declaração, demarcação e dissolução da fronteira. É sussurro altíssimo frente à “cidade em chamas, fodida e falida”. Não apenas teatro, é polifonia poética: dança, canto, performance. É apontar, mirar, para conseguir seguir e caminhar, traçar o ir, o sair, o voltar, na singela insurreição de existir.
______________________________
FICHA TÉCNICA
Direção e dramaturgia: Rafael Lorran
Elenco: Amanda Afonso, Amanda Naito, Anna Miranda, Cindy Kathellen, Colombina Gaspardo, Fabiene, Iris Xavier, Jessé Furquim, Juan Augusto, Laryssa Setim, Letriiicia, Maisa Ribeiro, Majo Farias, Mila, Murilo Marochi, nicK Bildre, Pauline Celestino, Raiane Lima, Rúbia Rodrigues.
Preparação corporal: Priscilla Pontes
Direção musical: Nelson Sebastião
Composição e produção dos beats: Leonardo Gumiero
Operação de trilha: Levi Hilgemberge
Criação e concepção de figurino: Ayala Prazeres
Assistência de figurino: Noah Mancini
Preparação vocal: Juni Bochne
Iluminação: Juliane Rosa
Arte gráfica: Yasmin Salamon e Jonathan Delgado
______________________________
Entrevista com Rafael Lorran
O diretor responsável pela Cia de Teatro, Rafael Lorran, também é ator, dramaturgo e professor de teatro. Licenciado em Teatro pela Unimontes e mestre em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Uberlândia. Recebeu o prêmio nacional SESC – Jovens Dramaturgos (2014), foi professor nas graduações em teatro da Federal de Uberlândia e atualmente é Diretor de Artes Cênicas da UFPR. Há quatro anos guiando os espetáculos da Companhia, no ano de 2023 inaugura mais uma produção inédita. Em entrevista gentilmente concedida, pude perguntar mais sobre os processos muitas vezes submersos na criação da obra.
Noah Mancini: Como nasce Asa Serpente?
Rafael Lorran: Acho que em relação à Cia. de Teatro da UFPR é importante pensar que todos os anos os trabalhos nascem a partir do encontro com as pessoas. Isso quer dizer que o próprio funcionamento da Cia se dá através da rotatividade de elenco, todos os anos fazemos um processo seletivo, selecionamos novas pessoas. Então a cada ano a Cia existe por um ajuntamento diferente, por um coletivo por pessoas que geralmente nunca trabalharam juntas, e também pela equipe que convido todos os anos. Então eu gosto que a temática surja do encontro entre essas pessoas. Asa serpente nasce a partir dos encontros naquela sala, das provocações que vou fazendo nos primeiros meses de trabalho, e nós vamos vendo o que é interessante pra gente, o que vai soando forte, urgente de ser dito entre nós. Os espetáculos nunca nascem de uma dramaturgia pré estabelecida, de um texto pronto, de uma ideia muito fixada. É óbvio que como diretor nos primeiros meses tenho alguns interesses nas artes da cena para serem trabalhadas, mas isso não tem a ver necessariamente com uma ideia fixa, mas qual o desejo naquele momento de se pensar um coletivo num espaço de cena.
E bom, eu sou de Minas Gerais né, e moro em Curitiba há quatro anos e meio. Na minha formação transitei entre algumas cidades de Minas, mas minha formação em licenciatura acho que acaba dizendo como conduzo os processos no que diz respeito à dimensão pedagógica, que atravessa desde o processo seletivo até o último dia de apresentação, as práticas vividas ali dentro, como o conhecimento vai sendo acionado com o fazer teatral. Isso estabelece algumas questões em relação ao tempo, em como lidar com a diversidade, com o acesso ou não, a experiência ou não, ir encontrando aquilo que é do campo das materialidades: um desejo artístico e pedagógico, não só do desejo mas da postura de se pensar o processo, a possibilidade de criação em coletividades.
Asa Serpente surge desse encontro. Então os primeiros meses de trabalho são sobre entender quem somos nós naquele espaço, naquele momento, quais as possibilidades e potências com elencos que não se conheceram, que possuem níveis de relação com questões técnicas diferentes, experiências prévias diferentes.São de práticas de consciência corporal, vocal , ritmo, musicalidade. Um espaço aberto para que experienciemos o teatro coletivamente, exercícios de abertura do corpo e da escuta e momentos de proposição do próprio elenco. A partir desse encontro apontam-se possibilidades dramatúrgicas. O primeiro ponto foi: como chegamos nessa cidade? Muitas pessoas não nasceram em Curitiba ou vieram para esta cidade justamente pelo sonho de fazer teatro, de trabalhar com arte. Então pensar como habitavam Curitiba, como chegamos até aqui e qual era a relação do nosso corpo com essa cidade, como nos sentíamos nos trânsitos urbanos sendo ou não de Curitiba, como construíamos lugares dentro dessa cidade. Começaram a se descortinar para a gente as noções de territorialidade, começamos a pesquisar e perceber quais são os princípios, procedimentos, que estética o trabalho vai pedir a partir do encontro.
A partir disso comecei a propor algumas práticas, etapas de processo para tatear esse tema e descobrir o que era latente. Fomos definindo um pouco mais esses contornos do processo criativo e entender o que faríamos. Daí dividimos o elenco em grupos e cada grupo propunha uma experiência entre uma aula e uma cena, que falasse um pouco como esses agrupamentos em duplas ou trios pensavam suas relações com a cidade. Conforme eles se apresentavam, fomos percebendo o próprio espaço corpo como um lugar possível de se entender a cidade, de dentro pra fora, de fora pra dentro, como isso ia reconfigurando os movimentos que fazíamos em relação a nós mesmos. Ou seja, ampliando a noção de territorialidade a partir das cartografias do lugar, a potência que essas cartografias iam criando em nossos corpos. Uma vez que esses contornos iam sendo definidos, comecei a olhar para narrativas que individualmente ou coletivamente se indiciaram durante os encontros e começava a propor as dramaturgias, escrevia para cada uma das pessoas. A dramaturgia ia acontecendo enquanto vivíamos coisas, então às vezes uma coisa que uma atriz disse no cafézinho antes de começar o ensaio, aquilo de repente me vinha como um start para a escrita do texto daquela atriz. Semanas depois eu trazia um texto escrito, pedia para a pessoa para quem escrevi o texto especificamente, ler o texto para a gente e ver o que funcionou, o que não funcionou. Nesse acordo tácito, ao tornar a dramaturgia que eu escrevia para as pessoas a partir de coisas que elas traziam para o processo, o que definia o contorno da dramaturgia era exatamente esse encontro. A força que ele tinha em trazer questões que atravessassem o coletivo era o princípio mobilizador da dramaturgia: encontrar o que era narrativa, o que era palavra. Dentre as práticas de processo, o que a Priscilla Pontes (preparadora corporal) trazia, o que o Nelson Sebastião (direção musical) trazia, e o que elenco trazia durante as experimentações, começava a despontar focos de potência de textos para uma ou outra pessoa, e para coralidades coletivas. Mas a escolha como esse texto se fecharia, a ideia do ponto final para cada narrativa, que são fragmentadas, se dava quando víamos que aquilo era muito próprio e verdadeiro para a pessoa que apresentava – e que carregasse algo de sensível onde outras pessoas também se encontravam através daquela narrativa. Os pontos que nos separam e os que estabelecem pontes entre a gente.
A força que encontro dentro do trabalho hoje é a possibilidade de perceber esses marcadores coreo-políticos, a partir daquilo que é muito individual, e como isso vai abrindo para o coletivo. Então não é um desejo de falar sobre temas que representem outros temas, nós estamos falando de nós nesse trabalho. Também são textos fragmentados, não possuem uma ação de causa e consequência. Outra coisa muito importante pra gente na configuração do espetáculo foi perceber o ritmo da dramaturgia, o ritmo nas referências musicais, nas expressões corporais. Pensar deslocamento, territorialidade urbana como uma questão de ritmo acabou tornando-se um elemento de linguagem no trabalho. Quais ritmos, quais mudanças de ritmo, transições de ritmos, gostaríamos de provocar nas pessoas que assistirão o espetáculo?
Noah: Como é dirigir um coletivo de 19 pessoas, em uma companhia que ao mesmo tempo é espaço de formação teatral?
Rafael: Eu acho que é uma pergunta das pessoas que assistem o trabalho que mais me fazem (risos). Primeiro que eu amo, desde as minhas primeiras experiências em direção lá em Minas, gostar de trabalhos com coletivos compostos por uma quantidade grande de pessoas em cena. Sempre me emocionou como espectador, sempre me mobilizou como ator trabalhar em elencos grandes e segue me mobilizando profundamente como diretor. Primeiro que se for pensar um pouco como é isso para mim, acho que são algumas questões. A primeira delas que eu dirijo dentro de uma companhia de uma universidade pública. O número parece uma questão muito objetiva, mas é bem importante mesmo. É importante que uma companhia pública aconteça dentro de uma coletividade relativamente expressiva, isso não significa que 19 pessoas é um número muito grande de pessoas, mas eu acho que as companhias públicas, a universidade pública são um ensaio possível para coletividades possíveis em diferentes campos de pensamento, de criação, de produção de conhecimento. Existe essa questão específica, acho importante que uma quantidade maior de circulação aconteça dentro do espaço.
Ao mesmo tempo gosto de pensar procedimentos criativos para um número grande de pessoas, propor jogos e práticas considerando um número grande de pessoas. Como acredito num processo de criação onde a dramaturgia surge a partir do encontro, um número grande de elenco significa também um número grande de possibilidades, olhares, perspectivas sobre um mesmo procedimento, de transformação desse procedimento em outro procedimento, que é o que acontece diariamente na Companhia. De pensar uma prática para tal dia e de repente somos 22, 23 pessoas na sala experimentando aquele procedimento. Isso significa a transformação daquilo diante da gente, né? E isso é uma das coisas que mais me encanta na direção: ter uma primeira imagem, mobilizar essa imagem para as pessoas, e de repente estar diante da transformação dessa imagem por aquelas pessoas, a partir de como elas olham para aquele jogo, como jogam ali dentro. Acreditar que um elenco grande mobiliza a modificação do fazer artístico, estabelece um espaço muito potente de como eu mesmo vejo o teatro, isso me alimenta e desestabiliza ao mesmo tempo. Acredito que me gera atualizações, me provoca e provoca essas pessoas em lugares diferentes.
Aí vem uma dimensão que é muito importante: o que é dirigir um elenco que se percebe enquanto coletivo. Ou seja, não romantizar esse encontro, né? Nós falamos isso no espetáculo inclusive: é difícil em termos de afeto, em termos de cansaço, ritmos diferentes, habilidades em lugares diferentes. Repetimos então que é difícil e não vamos romantizar essa coletividade, porque exige de nós a abertura para determinados estados de exaustão, que é um fluxo de energia muito grande, um fluxo de pensamento, um choque com diferentes visões de mundo. O que possui uma potência em si muito grande pra trabalho, mas que ao mesmo tempo exige uma escuta e uma abertura: ceder, propor, silenciar, falar muito. É um processo que exige da gente uma transformação de como se pensar a possibilidade de estar junto.
E aí acho que o terceiro aspecto, que justifica para mim todos os dias por quê estar dirigindo um elenco desse tamanho. Quando um exercício, uma prática, uma cena se descortina diante de nós é quando a gente consegue entender que isso é um ensaio para uma possibilidade de vida, como olhar paras as possibilidades de ajuntamento maiores, muito maiores que nós inclusive, fora dali. E isso não tem a ver só com teatro. Isso diz respeito ao lugar que habitamos, diferentes, e como isso modifica o que produzimos ali dentro. É um desafio, mas é como consigo pensar o teatro, não consigo pensar o teatro fora desse tensionamento.
Nesse sentido, falando de uma questão mais técnica, um desafio ainda maior é decidir uma proposta de encenação que mantenha essas 19 pessoas em cena durante todo o trabalho. Falando de questões objetivas, é muito complicado manter as 20 pessoas no palco, em tempo integral em todo o processo de encenação. Significa que todas essas pessoas estão em ação, que quando uma pessoa falta um ensaio, há de fato uma desestabilidade da estrutura. Ou seja, uma ausência modifica a percepção das outras 18 pessoas sobre o que está acontecendo naquele momento, porque aquele objeto não chegou naquele momento. Também revela isso, a força de uma pessoa para que a estrutura coletiva se mantenha de pé.
Noah: Quais foram os maiores deslocamentos percebidos ao longo do processo?
Rafael: Esse ano contar com a Priscilla Pontes, Nelson Sebastião, Ayala Prazeres, Leonardo Gumiero foi imprescindível. Falando essencialmente da Priscila e o Nelson, ambos são professores, possuem uma relação pedagógica, trabalham com coletivos ministrando aulas em outros espaços, pensam a arte como um processo de formação nas suas investigações profissionais e artísticas. Foi muito importante pensar o processo de criação e formação coletiva, acho que isso tornou possível o trabalho.
Mas acho que o principal deslocamento vivido foi a dimensão do convívio, perceber o que é próprio e o comum, questionar a dimensão do comum, ampliar uma perspectiva mais crítica sobre o que é uma ação coletiva nesse campo da poética. Olhar para essas questões que envolvem o corpo, o que nós fazemos ali. Apesar de tomar questões muito específicas, a política dos nossos deslocamentos em Curitiba e por onde passamos a partir de uma materialidade poética. A nossa urgência ali é por entender como a dimensão poética pode ser atravessada e atravessar a temática que escolhemos habitar nesse processo de criação.
Sobretudo cuidar das nossas relações, desde a dificuldade de fazer isso pelas nossas diferenças, identificações, não identificações. Entendendo que existe uma coisa mais forte entre a gente que era esse espetáculo, o desejo por viver essa mobilização, através do convívio possível no processo de criação era oque diluía algumas fronteiras e tornava possível que outras permanecessem. “Olha, nós insistimos nessa ação aqui”, e essa insistência pode criar novas coisas, desde novas perspectivas, até organizar nossas experiências com outras palavras.
Para mim, estrear um trabalho aqui na Cia de Teatro da UFPR é sempre um momento que mobiliza muito meu pensamento sobre as artes cênicas. Falar sobre isso, pensar diferentes territórios e quem somos em outros lugares, é uma coisa que mexe bastante comigo.